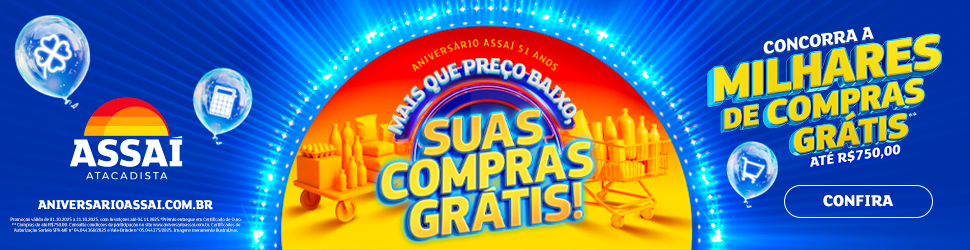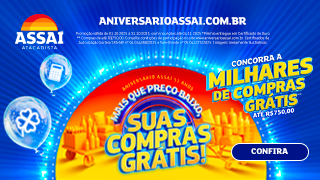Rio de Janeiro, 31 de março de 2025.
Querida “Vale Tudo” 2025,
Escrevo-lhe do alto de 37 anos de memória, eu que sou a novela “Vale Tudo” de 1988, tua antecessora, tua origem.
Acomodo-me na forma de carta-ensaio para te saudar em tua estreia iminente e refletir, com a inteligência madura dos anos, sobre o que fomos, o que significamos e o que esperamos de ti, minha nova versão.
Esta não é uma carta comum: carrega em cada linha a consciência histórica, sociológica, psicanalítica e cultural de uma obra que marcou o Brasil. Permita, pois, que esta “senhora madura” da teledramaturgia lhe dê as boas-vindas com palavras impregnadas de memória e sentido.
Lembro-me vividamente de meu nascimento. Era 1988, e o Brasil vivia transformações febris: após duas décadas de ditadura, ensaiava os passos da redemocratização; uma nova Constituição cidadã estava prestes a ver a luz; antigos hábitos e valores chocavam-se com a ânsia de mudança.
Foi nesse cenário que surgi na TV Globo — filha da redemocratização e neta da esperança, por assim dizer — lançando ao público uma pergunta incômoda e fundamental: afinal, vale a pena ser honesto?
Essa provocação ressoou fundo numa sociedade que via escândalos de corrupção virem à tona justamente quando tanto se falava em ética e “moralização”. Fui concebida pelos talentosos Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères para botar o dedo na ferida do país, e não recuei diante dessa missão.
Minha trama foi ao ar, enfim, em maio de 1988, última novela a passar pelo crivo da velha censura governamental — censura esta que agonizava, prestes a extinguir-se com a nova ordem constitucional. Carreguei, portanto, o peso e o privilégio de ser uma das primeiras vozes realmente livres na TV pós-ditadura.
Desde meus primeiros capítulos, apresentei um espelho ao Brasil. Nele, o público viu refletida uma sociedade corrompida pelo famoso “jeitinho”, um país onde muitos insistiam em levar vantagem em tudo e acreditavam que as regras existiam para ser quebradas.
Minha história central, você bem sabe, girava em torno de uma dicotomia moral poderosa: de um lado, Raquel Accioli, a mãe batalhadora, íntegra e honesta até o último fio de cabelo; do outro, Maria de Fátima, sua filha ambiciosa, inescrupulosa e sedenta de ascensão social a qualquer custo.
Ambas viviam um conflito que era ao mesmo tempo íntimo e nacional. Mãe e filha em choque de valores, amor e decepção entrelaçados ao dilema ético de um Brasil que precisava escolher entre a retidão e a esperteza.
Sabia disso? Mais de quatro meses após estreia, ‘Ainda Estou Aqui’ segue em cartaz no Vale do Paraíba
Essa oposição fundamental entre Raquel e Fátima foi o fio condutor do meu enredo e o coração de minha crítica social. Raquel, interpretada na época pela carismática Regina Duarte, que se desconstruiu nos dias de hoje pela patologia política ainda sem vacina que adoeceu o país, encarnava a virtude da gente simples.
Vindo do Paraná, ao ser enganada pela filha que lhe vende a casa e foge com o dinheiro, ela não sucumbe ao desespero; reinventa-se vendendo sanduíches nas praias do Rio para sobreviver. Raquel representava a honestidade teimosa, aquela fé quase obstinada de que o trabalho duro e a decência pessoal constroem uma vida digna.
Já Maria de Fátima, vivida por Glória Pires, personificava o sonho brasileiro torto da ascensão a qualquer preço. Horrorizada pela pobreza e disposta a tudo para ser rica, Fátima não hesitou em trair a própria mãe, trocando o amor materno por uma passagem para a alta sociedade.
Nela havia um misto de fascínio e repulsa: muitos espectadores se viam em sua revolta contra a falta de oportunidades, em sua recusa de se resignar à pobreza, mas ao mesmo tempo se chocavam com os meios cruéis que ela empregava.
Fátima era uma espécie de anti-heroína ambígua, síntese de nossos desejos e contradições: ao odiá-la, o público talvez odiasse também a parte sombria de si mesmo, aquela que, num sussurro, cogita que “talvez todos fossemos capazes disso se pressionados”.
Em volta desse núcleo temático, orbitaram diversos personagens que pinçaram, cada qual, facetas da realidade brasileira de então.
Apresentei Odete Roitman, a grande vilã, imortalizada por Beatriz Segall — uma mulher da elite econômica, fria, arrogante, que desprezava o Brasil e os brasileiros comuns enquanto acumulava poder e riqueza.
Odete manipulava filhos e negócios com mão de ferro; em público trajava o verniz da fina flor da sociedade, mas por baixo ostentava a hipocrisia venenosa de quem se julga acima do bem e do mal.
Odete não precisava sujar as mãos de sangue para ser temível (de fato, ironicamente, ela própria não chegou a matar ninguém diretamente ); seu veneno era a palavra e a influência, e assim ela personificou a corrupção sofisticada, a maldade respeitável de colarinho branco.
Quem via Odete na TV não podia deixar de pensar nas figuras reais — políticos, empresários — cujos sorrisos cínicos povoavam o noticiário da época. Havia também Marco Aurélio, o executivo dissimulado, funcionário de confiança na empresa de Odete, porém tão corrupto quanto ela.
Interpretado por Reginaldo Faria, Marco Aurélio simbolizava aquele tipo de golpista elegante que opera nos bastidores: fraudava contas da empresa aérea TCA, desviando dinheiro sorrateiramente. Com charme e inteligência, ele encobria sua falta de escrúpulos sob um manto de respeitabilidade, um lobo em pele de cordeiro.
E havia César, amante de Fátima, ambicioso e sem caráter, um arrivista sem eira nem beira que topava qualquer trapaça. Junto a Fátima, formava um par de “Bonnie and Clyde” tupiniquins, oportunistas de pouca origem, mas grandes planos.
Do lado dos bons, apresentei também almas decentes: Afonso Roitman, o filho de Odete, honesto e algo ingênuo; Heleninha, a filha frágil e emocionalmente destroçada pela dureza materna; Ivan Meirelles, o administrador vivido por Antonio Fagundes — inicialmente um homem correto, apaixonado por Raquel, mas que também escorrega moralmente ao longo da trama.
Sim, porque uma das minhas ousadias foi mostrar que a fronteira entre honestos e desonestos nem sempre é nítida. Personagens íntegros também cometiam falhas: o próprio Ivan, em sua sede de crescimento profissional, acabou sucumbindo em certo momento às tentações do dinheiro fácil e chegou a subornar um funcionário público a pedido de Odete, manchando sua ficha limpa.
Meu mundo não era maniqueísta de modo simplista; era povoado por gente de carne e osso, “personagens profundamente humanos, mesmo os mais desumanos”, como analisou um crítico em retrospecto.
Essa complexidade moral aproximava minha ficção da vida real — fazia o público se enxergar nas telas, por mais duras que fossem as verdades expostas. Afinal, quem nunca pediu um “jeitinho”? Quem nunca sentiu a tentação de furar a fila, trapacear um pouquinho que fosse, num país em que tantos parecem se dar bem pela via torta?
Minha narrativa tratou de dilemas éticos e morais a cada capítulo, de forma quase pedagógica e ao mesmo tempo visceral.
Mostrei pequenas desonestidades cotidianas, como duas personagens coadjuvantes, Aldeíde e Consuelo, confessando trocar etiquetas de supermercado para pagar mais barato ou levando para casa sabonete e papel do trabalho, pequenos furtos justificáveis pelo salário curto e a hiperinflação da época.
Você pode gostar: O que você vai encontrar na exposição imersiva de Van Gogh em São José
Esses detalhes não eram gratuitos: compunham um mosaico sociológico da brasilidade, evidenciando como, em um ambiente de crise econômica e instabilidade, até pessoas comuns e “de bem” podiam escorregar eticamente.
Assim, fomentei uma discussão que até então poucas novelas haviam tido coragem de colocar tão claramente: até que ponto é possível ser honesto e ao mesmo tempo bem-sucedido no Brasil? Será que apenas quem abdica da ética consegue prosperar?
Raquel bradava que jamais roubaria ou mataria para vencer na vida; mas quase no fim, tão golpeada foi por injustiças, que chegou a dizer que “agora, acho que conseguiria matar”, num desabafo amargo de quem quase perde a fé na própria retidão diante de tanta impunidade ao redor.
Essa indagação sobre os limites da honestidade em meio à corrupção generalizada revelou-se um retrato cru do nosso inconsciente coletivo. Toquei em feridas que vêm talvez desde os tempos coloniais, do patrimonialismo, da lei do mais forte travestida de esperteza.
Não só no âmbito social, mas também no psicológico e psicanalítico, busquei profundidade. Cada personagem carregava consigo marcas emocionais, traumas, desejos ocultos que refletiam algo da psique nacional.
A relação de Raquel e Fátima, por exemplo, pode ser lida à luz da psicanálise como um embate edípico invertido: a filha tentando “matar” simbolicamente a mãe (renegando seus valores, destruindo seu sustento, humilhando-a) para nascer de si mesma, para afirmar-se num mundo que, crê ela, não há espaço para a ingenuidade materna.
Fátima tem horror à pobreza; poderíamos dizer que em seu inconsciente a pobreza equivalia ao apagamento de si, à não existência social. Ela reagia a esse terror com uma voracidade quase patológica por status e segurança material.
Já Odete Roitman encarnava talvez uma imagem de superego distorcido: arrogante e julgadora, tinha certezas absolutas sobre o que era “gente decente” ou não, impondo padrões morais aos filhos. Contudo, esse superego era hipócrita, pois ela própria violava os princípios éticos basilares.
Essa contradição de Odete — pregar uma moral que não pratica — é altamente reveladora de uma neurose social: quantos “cidadãos de bem” não agem exatamente assim, condenando nos outros o que secretamente fazem?
Heleninha, filha de Odete, por sua vez, afogava-se em álcool, numa autodestruição que pode ser lida como produto da opressão materna e do vazio existencial numa família sem amor genuíno; seu vício retratava também a dor silenciosa de muitos que buscavam refúgio químico numa sociedade opressiva.
Assim, minha trama explorou não apenas a política e a economia do Brasil dos anos 80, mas também suas angústias psíquicas: o sentimento de desesperança, a inveja social, a culpa, a internalização da injustiça a ponto de adoecer individualmente. Foi um grande painel da alma brasileira em um momento de transição.
O Brasil assistiu a tudo isso com avidez. Lembro-me da reação quase febril do público. Não demorou para que milhões se vissem investidos na história, discutindo no dia seguinte as atitudes de cada personagem, como quem debate as escolhas de um amigo próximo.
Torciam por Raquel, pela ética, pela reconciliação entre mãe e filha, pelo triunfo do amor sobre a ambição! E ao mesmo tempo se deliciavam (com uma ponta de culpa, talvez) com as artimanhas de Fátima e Odete. Ficavam indignados e fascinados na mesma medida.
Plantei aquele grande mistério que se tornou fenômeno cultural: quem matou Odete Roitman? Essa pergunta pairou no ar do país como uma nuvem elétrica. Nunca antes uma novela mobilizara tanto a curiosidade nacional.
Era o assunto em cada esquina, em lares de todas as classes, unindo brasileiros no suspense coletivo. Quando Odete foi baleada misteriosamente, fiz o Brasil inteiro virar detetive. Havia uma dimensão catártica nessa trama policial: ao tentar descobrir o assassino, o povo talvez expressasse seu desejo de justiça — queriam ver punido aquele mal que Odete representava.
Mas em minha ousadia narrativa, a revelação final não trouxe um herói justiçeiro derrubando o mal. Trouxe mais um giro cruel do destino, uma ironia trágica: Odete fora morta por engano, alvejada por Leila (Cássia Kis), esposa de Marco Aurélio, que pensou estar atirando em Maria de Fátima.
O crime emergiu do próprio círculo vicioso de trapaças e infidelidades, um erro nascido do caos moral. Essa solução surpreendente chocou e ao mesmo tempo maravilhou o público pela inventividade. Odete se foi, mas seu espectro pairou sobre o desfecho.
E que desfecho! Aqui, confesso, ousei quebrar de vez as expectativas morais tradicionais. Meus vilões não receberam castigo exemplar. Ao contrário, muitos deles terminaram por cima. Maria de Fátima, mesmo após todas as armações, acabou conseguindo a vida de luxo que queria — casou-se com um nobre europeu e tornou-se milionária, realizando seu sonho dourado sem pagar pelos pecados cometidos.
César seguiu sendo seu amante, e ambos continuaram a enganar o tal príncipe em um conluio cínico —quantas máscaras de falsa moralidade coloquei aí.
O príncipe era homossexual enrustido precisando de uma esposa de fachada, e Fátima topou o papel em troca de dinheiro. No fim os três – Fátima, César e o príncipe – formaram um triângulo de conveniência e hipocrisia, uma sátira mordaz às aparências sociais!
E Marco Aurélio, o arquiteto de tantos esquemas, simplesmente fugiu impune: embarcou num jatinho particular levando fortuna roubada e, num ato de deboche supremo, despediu-se do Brasil mostrando aos honestos que ficaram em terra uma “banana” — o gesto obsceno de escárnio — pela janela do avião.
Essa cena entrou para a história da TV: era a imagem perfeita da impunidade rindo da justiça, do mal triunfando enquanto os “otários” (nas palavras implícitas do próprio Marco Aurélio) ficavam para trás.
Nunca antes uma novela das oito terminara de forma tão amarga, tão realista em seu pessimismo. Muitos esperavam que no último capítulo a polícia surgisse milagrosamente ou que o remorso atingisse os culpados, mas eu optei por mostrar a vida como ela é, sem adornos, sem consolo fácil.
Porque, sejamos francos, no Brasil de então (e talvez ainda no de agora), quantos Marcos Aurélios não saíram ilesos de seus crimes de colarinho branco? Quantas Fátimas não colheram os louros de suas falcatruas enquanto gente honesta penava?
Meu final escancarou essa ferida e deixou muita gente reflexiva, inquieta, talvez indignada — mas essa indignação era proposital, era minha forma de instigar mudanças. Ao mostrar que “o crime compensa” na minha ficção, eu gritava um alerta sobre a realidade.
Esperava-se que o público, ao sentir o gosto amargo da injustiça, desejasse ainda mais fervorosamente um país diferente. Qual foi o impacto disso tudo? Imenso, duradouro, multifacetado.
Fui um espelho incômodo, mas necessário. Diziam por aí que eu recuperara “o prazer de assistir a vida como ela é” na TV, renovando o realismo na teledramaturgia.
Muitos folhetins que vieram depois beberam da minha fonte, inspirados pela ideia de criar personagens mais verossímeis e críticas sociais mais diretas, sem medo de desagradar. Até então, novelas frequentemente derramavam filtros e alegorias para falar de corrupção ou malandragem.
Eu não, falei sem rodeios, chamei o Brasil de 1988 às falas. E o Brasil respondeu. Aquele ano terminaria com a eleição presidencial de 1989, a primeira eleição livre para presidente em décadas — e é como se, ao sintonizar em mim todas as noites, o povo estivesse também fazendo um balanço moral da nação na hora de escolher seu futuro.
A história real seguiu confirmando muitas das minhas denúncias: poucos anos após meu fim, vimos um presidente sofrer impeachment por corrupção, e nas décadas seguintes tivemos uma sucessão de escândalos, do Collor confiscando a poupança alheia ao Mensalão, Petrolão e Lava Jato, mostrando que os poderosos continuavam, tal como eu dissera, frequentemente acima da lei.
A fala de Raquel no último capítulo, notando que só “meia dúzia de pobres” é presa enquanto os verdadeiros mandantes seguem livres, soou tristemente premonitória em caso após caso que o noticiário revelava.
Mesmo tragédias nacionais, como desastres por negligência empresarial, se encaixavam no meu discurso: lembremos que, trinta anos depois, no crime da Vale em Brumadinho, em 2019, engenheiros e fiscais subalternos foram presos, mas os diretores ricos permaneceram impunes.
Era a vida imitando a arte em sua faceta mais cruel. Por tudo isso, críticos voltaram a me chamar de “assustadoramente atual” quando reprisada décadas depois. Muitos jovens em 2018 e 2019, que nem eram nascidos quando fui ao ar, assistiram à reprise no Canal Viva e ficaram estarrecidos com a atualidade dos temas.
Alguns nem sentiram falta de celulares ou internet na trama, tamanha era a identificação com as situações. Fui, sem falsa modéstia, elevada à categoria de clássico atemporal.
E agora, cá estamos: 2025. O mundo mudou, o Brasil mudou, mas nem tanto. Você, “Vale Tudo” 2025, está prestes a nascer numa pátria que ainda se debate com muitos daqueles fantasmas, embora sob novas máscaras.
Sinto um orgulho imenso em ver que minha voz ecoará novamente através de você. Que bela homenagem a mim e que oportunidade de diálogo com um novo público! Sua gestação é cuidadosa: soube que Manuela Dias reescreveu minha história para os dias de hoje, e que esta estreia faz parte das celebrações dos 60 anos da TV Globo.
Ou seja, não é só um remake por entretenimento, mas um capítulo importante na memória cultural do país. Quanta responsabilidade, quanta honra – para nós duas.
Vejo com bons olhos muitas das atualizações que você trará. Os tempos de 1988 e 2025 dialogam, mas não são idênticos. As redes sociais invadiram nossas vidas, redefinindo fama, poder e até corrupção.
Como não atualizar a saga de Maria de Fátima para esse contexto? Na minha época, ser modelo de passarela ou estrela da alta sociedade era a meta; hoje, influenciadora digital é o novo sonho dourado com renda de vários zeros com o “tigrinho” e outras bets infernais.
E assim será: a tua Maria de Fátima buscará vingar como influenciadora e enriquecer na era do Instagram e do TikTok. Achei essa escolha genial e muito orgânica – afinal, quantas “Fátimas” contemporâneas não vendem uma imagem de vida perfeita online, fazendo de tudo pelos cliques e seguidores?
Os meios mudam, mas a sede de ascensão permanece. Novos meios, mesmos fins. Também o universo ao redor se moderniza: na minha versão original havia a revista de moda Tomorrow, onde Fátima tenta se inserir.
Agora, será uma agência de conteúdo digital, claro. Até as pequenas corrupções talvez ganhem nova cara. Em vez de subornar um fiscal com dinheiro vivo, quem sabe na tua trama haverá hackers, golpes financeiros virtuais, fake news usadas para destruir reputações?
O importante é que você refletirá as mazelas de hoje. A autora Manuela Dias declarou desejar exatamente isso: “promover um ambiente de discussão de questões relevantes para a sociedade brasileira de hoje”, reconhecendo que nosso entendimento sobre ética e relações mudou em alguns pontos, para melhor ou pior.
Ou seja, você nasce com a vocação de, tal como eu, ser espelho e debate, sacudir consciências em 2025. Também me emociona ver avanços naquilo que, em 1988, tivemos de tratar com pudor ou não pudemos abordar devidamente.
Cito, por exemplo, o casal Laís e Cecília. Sempre foram, em essência, um casal lésbico — apresentei assim nas entrelinhas, tentando driblar a censura e o preconceito de então.
Naquela época, para discutir o direito de herança entre companheiras (já que não havia união civil homoafetiva reconhecida), meu autor matou Cecília, gerando um drama sobre quem herdaria seus bens. Era o que se pôde fazer nas limitações daquele contexto.
Agora, saber que em você as duas serão abertamente companheiras, sem nada a esconder, e que nenhuma delas morrerá por força de tabu, traz-me alegria e alívio. Sinal de que nosso país, apesar de ondas conservadoras recentes, avançou na representação e no respeito à diversidade.
Igualmente, noto com satisfação que a cor da pele de nossas protagonistas já não será a mesma: Raquel e Maria de Fátima renascem interpretadas por Taís Araújo e Bella Campos, duas talentosas atrizes negras, inseridas em um núcleo familiar negro.
Em 1988, devo admitir, meu elenco principal era todo branco, num Brasil miscigenado onde a TV raramente dava protagonismo a atores negros no horário nobre. Que belo sinal dos tempos ver agora uma família negra ocupando o centro da narrativa, reconhecendo que as questões de ética, ambição e valores não têm cor, mas que a representação importa, sim, e muito.
Isso trará camadas novas: talvez a nova “Vale Tudo” tangencie também questões de racismo estrutural, oportunidades negadas pela cor da pele, algo que na minha versão original ficou como subtexto silencioso. A sociedade brasileira de hoje exige essa conversa, e você parece disposta a tê-la.
Outra mudança sutil, mas significativa, é de linguagem e sensibilidade. Fiquei sabendo que a personagem Heleninha, antes rotulada de alcoólatra (palavra dura, carregada de juízo de valor), agora será chamada de alcoolista, um termo brando e clínico, alinhado à visão contemporânea de dependência química como doença e não mero desvio moral.
Pode parecer detalhe, mas é importante: mostra como, de 1988 para cá, refinamos a compreensão sobre certos problemas humanos. A dor de Heleninha será tratada com respeito e empatia, creio eu, e não com o estigma de outrora. São ganhos civilizatórios que você incorporará.
Dito tudo isso, confesso que também carrego expectativas e perguntas sobre o que farás diferente — não por desconfiar, mas por genuína curiosidade intelectual. Minha essência você já tem: é um drama sobre honestidade versus corrupção, sobre amor familiar versus ganância, sobre o Brasil se olhando no espelho.
Mas e os novos dilemas éticos? Em 2025, talvez o público se pergunte não apenas se vale a pena ser honesto, mas também como ser honesto em meio a tanta polarização e relativização da verdade.
Vivemos tempos estranhos: de um lado, cidadãos clamando por ética; de outro, uma fadiga, um cinismo generalizado, após tantos escândalos.
O Brasil atual, que você retratará, passou por fervorosos embates políticos nos últimos anos: impeachment golpista de uma presidente, ascensão de um populismo de direita encabeçada por um nazifascista idiotizado, corrupção sendo ora combatida ora instrumentalizada, enfim, um cenário turbulento.
Há uma crise de confiança nas instituições, e no ar paira a sensação de que todos os gatos são pardos: acusam-se uns aos outros de corrupção, enquanto a população já não sabe em quem acreditar. Talvez seu desafio seja, além de reiterar minha velha questão, aprofundá-la.
Não só “a honestidade compensa?”, mas “o que é ser honesto num mundo de valores fluidos?”. Na era das fake news, manter a integridade inclui lutar contra a desinformação, contra a manipulação massiva que vem pela internet.
Eu, em 1988, lidava com mentiras pessoais (as intrigas de Odete, as armações de Fátima); você, em 2025, talvez lide também com mentiras coletivas, teorias conspiratórias, novos tipos de engodo. Espero que você seja tão corajosa quanto eu fui em enfrentar temas espinhosos.
Querida “Vale Tudo” 2025, há tanta coisa que quero te dizer que esta carta já se alonga quase tanto quanto um capítulo meu… Mas não poderia concluí-la sem deixar claros meus votos e esperanças para você.
Espero que mantenha o meu legado de inteligência e acidez crítica, que os diálogos sejam tão afiados quanto os meus foram, capazes de virar citações repetidas nas ruas. Que seus personagens, ainda que revisitados, tenham a verdade pulsando nas veias.
Dê-nos uma Odete Roitman contemporânea que esteja à altura da original: alguém que concentre em si as contradições da elite brasileira atual, quiçá uma figura que disfarce seu egoísmo sob discursos de meritocracia ou patriotismo vazio, tal como tantas figuras reais de hoje.
Dê-nos uma Maria de Fátima que cause no público a mesma mistura de fascínio e horror — e acredito que Bella Campos terá êxito, pois já afirmou ver em Fátima uma personagem “cheia de camadas, com dores e vulnerabilidades” e ao mesmo tempo dotada de coragem e força.
Ou seja, até Fátima será revista com lupa psicológica, mostrando que ninguém se corrompe sem um custo interno, sem feridas. Isso é excelente, tornará o debate moral ainda mais rico, pois humaniza a vilania.
E, sobretudo, dê-nos uma Raquel luminosa, inspiradora, atual. Taís Araújo certamente trará sua garra e brilho, e espero que a nova Raquel consiga novamente ser a consciência do público, aquela voz insistente a nos lembrar que a honestidade importa, que não estamos condenados ao cinismo.
Se em algum momento Raquel fraquejar (como fraquejou no original, quase perdendo a fé), que também seja humano e compreensível, mas que sua perseverança final sirva de farol.
Eu gostaria, sinceramente, que através de você o Brasil pudesse fazer um balanço destes quase 40 anos. Que diferenças verá o espectador mais atento?
Talvez note que em 1988 o problema parecia resumir-se à corrupção dos ricos versus a resistência dos pobres honestos, e agora perceba que a linha se embaralhou: temos ricos compassivos e pobres corruptos também, e que a corrupção é um fenômeno que permeia vários níveis — como eu já insinuava mostrando pobres fazendo pequenos delitos e ricos sendo “gente boa” porém omissa.
Talvez reconheça que algumas coisas melhoraram — hoje falamos mais abertamente de igualdade de gênero, raça, orientação sexual; há leis de transparência, há imprensa livre e onipresente; a sociedade civil aprendeu a fiscalizar (em parte graças a ter se visto no espelho que forneci).
Mas também vai encarar que muito permanece ou até piorou: a desigualdade social gritante, a naturalização da malandragem, a impunidade cíclica. E quem sabe enxergue coisas novas: a alienação via tecnologia, a efemeridade das celebridades de internet que sobem e caem em um dia, a ansiedade coletiva de um mundo hiperconectado.
Confio que você, minha sucessora, abordará essas camadas sem nunca perder o fio da boa história.
Por fim, devo dizer que o simples fato de você existir já é, para mim, um triunfo. Significa que aquela pergunta que lancei em 1988 — “vale a pena ser honesto?” — ainda ecoa na alma brasileira, clamando por resposta.
Enquanto essa pergunta não cessar de ecoar, enquanto o Brasil não encontrar uma resposta satisfatória na vida real, faz sentido contarmos e recontarmos essa história, refletirmos através dela. Você é a prova de que a arte continua sendo nosso espelho e talvez nosso farol.
E quem sabe — permito-me sonhar —, se muitos que te assistirem resolverem, em suas vidas, provar que sim, vale a pena, e começarem eles próprios a exigir e praticar honestidade, então talvez num futuro “Vale Tudo” não seja mais tão atual porque teremos enfim superado esses velhos demônios.
Utopia? Talvez. Mas as grandes mudanças já foram um dia utopias sonhadas por alguém.
Despeço-me com emoção. Estarei em cada cena sua, em cada linha de diálogo adaptado. Serei o fantasma benigno a inspirar-te.
Que você brilhe, que você sacuda o país, que você faça jus ao título que carregamos. Lembre-se, ele não é um incentivo ao cinismo, mas uma interrogação crítica. No mais, estarei na primeira fila, ou melhor, diante da TV, torcendo por você, torcendo pelo Brasil que se revê em você.
Com admiração profunda e esperança renovada,
“Vale Tudo” (1988), sua antecessora e eterna aprendiz da realidade.
Fabrício Correia é crítico de cinema, escritor, jornalista, produtor cultural e professor universitário. Apaixonado por teledramaturgia, integra a União Brasileira de Escritores.